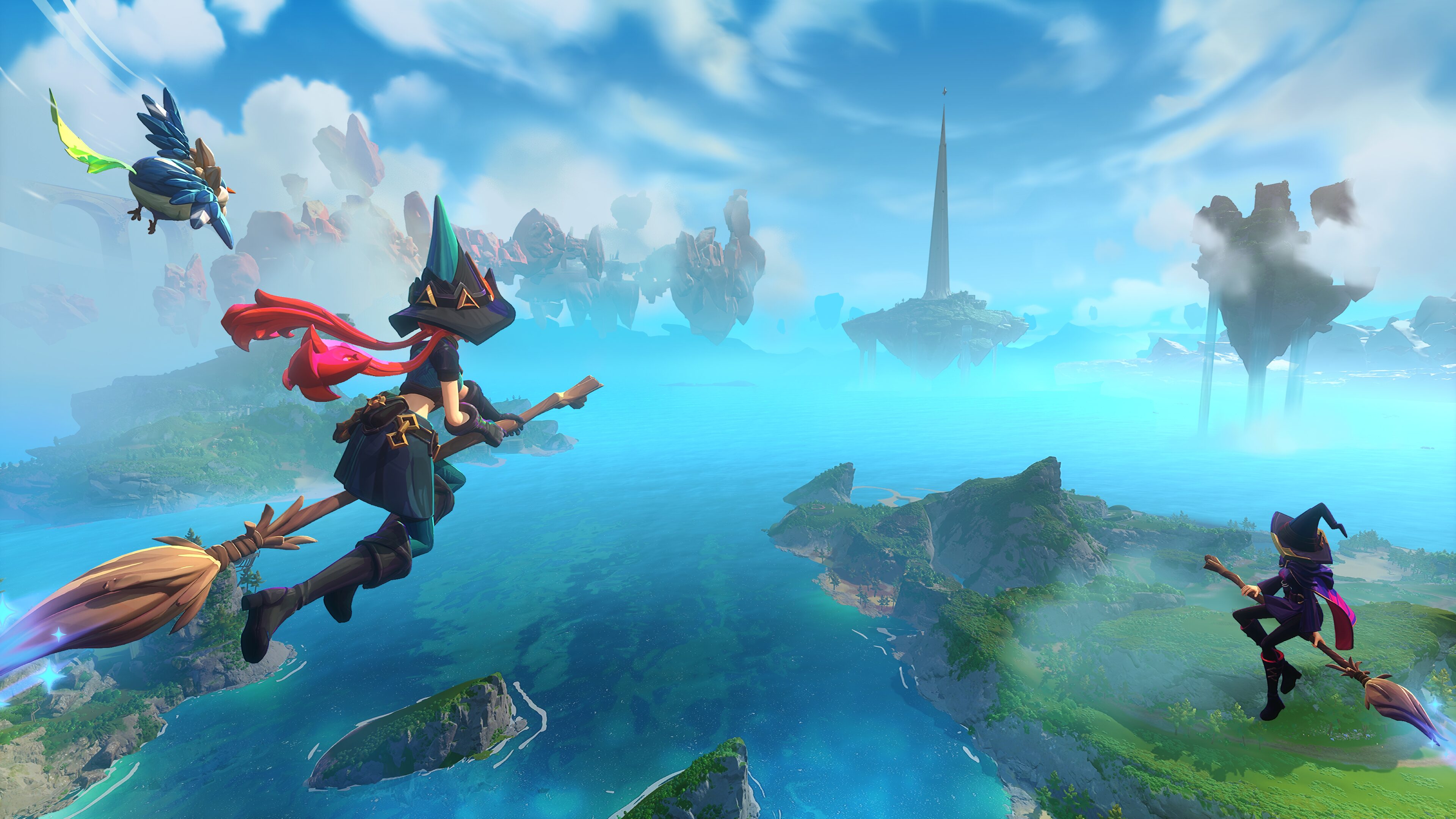CRÍTICA | “Z – A Cidade Perdida”
Filmes que exploram a ganância e a intolerância dos europeus enquanto estes exploram as Américas não são novidade. Não precisamos ir muito longe, vemos tal contexto no recente e premiado O Regresso, de Alejandro González Iñárritu. Contudo, poucos pegam tal situação, que proporcionou a destruição de inúmeras culturas e povos nativos, e criam uma obra otimista, […]

Filmes que exploram a ganância e a intolerância dos europeus enquanto estes exploram as Américas não são novidade. Não precisamos ir muito longe, vemos tal contexto no recente e premiado O Regresso, de Alejandro González Iñárritu. Contudo, poucos pegam tal situação, que proporcionou a destruição de inúmeras culturas e povos nativos, e criam uma obra otimista, focando em situações pessoais em detrimento de uma análise da situação como um todo. Z: A Cidade Perdida foge do óbvio e faz isso. Baseado em uma história real e adaptado de livro de mesmo nome, o longa acompanha o explorador Percy Fawcett e sua obcecada busca por uma cidade perdida no interior da selva amazônica.

Militar como seu pai, Percy se sentia excluído por não ter condecorações em sua jovem carreira. Surge, então, a possibilidade de participar de uma grande missão que visava mapear a floresta amazônica. Durante a expedição, Fawcett acaba se apaixonando pela floresta e seus encantos, e desvendar os mistérios da mata e encontrar uma civilização perdida passam, então, a ser as obsessões do inglês, que ainda tem que administrar suas viagens e carreira com sua vida pessoal. Sendo uma cinebiografia, o filme acompanha Percy em diversas etapas da sua vida, o que poderia ser um problema para a montagem. Aqui, o trabalho de John Axelrad e Lee Haugen tira de letra a tarefa de dar importância e tempo suficiente de tela para todas as épocas retratadas. Os atos são bem definidos e há uma coesão narrativa muito grande graças ao trabalho de edição. Também merece crédito o roteiro de James Gray (que também dirige), sintetizando as mais de 400 páginas do livro em um roteiro de 140 páginas sem que, aparentemente, nenhum elemento importante tenha sido cortado.
A narrativa constrói-se ao redor do crescente desejo de Percy por desbravar as matas amazônicas. Percebemos em sua primeira viagem alguns elementos que são bem utilizados e dissecados ao longo da trama. O primeiro é a forma como os europeus tratam os nativos. Sendo chamados de “vermelhos”, os indígenas são escravizados e tratados como mercadorias, assim como os negros. A fim de humanizar seu personagem, o roteiro traz um protagonista que tenta trata-los como os humanos que são, ao mesmo tempo que Percy traz seus próprios defeitos (que são mais fruto da época em que viveu do que falhas em seu caráter), como a absurda visão machista de que sua esposa atrapalharia a expedição. O outro elemento é a forma como Percy observa e interage com a natureza e o povo nativo. Quando na América pela primeira vez, o inglês encontra um ambiente mais hostil. Evita o contato com os indígenas que o atacam e sente-se em perigo diante dos relatos que ouve a respeito da floresta. Durante a viagem de barco pelo rio, inclusive, há uma passagem de extrema dificuldade que remete diretamente ao clássico Apocalypse Now, quando o grupo de americanos é atacado pelos nativos e perde parte da equipe. Na segunda viagem, porém, vemos um explorador mais acostumado aos perigos e disposto a abraçar as diferentes culturas a fim de chegar ao seu destino.

A fotografia do filme faz uso de iluminações naturais (ou pelo menos as emula em boa parte da projeção), criando uma atmosfera realista digna da história real. Em alguns momentos, porém, pela falta de luzes frontais e de preenchimento, as paletas de cores ficam exaustivamente uniformes, impedindo que Z aproveite a lindíssima floresta que retrata. Há também poucos planos abertos e muitos planos médios e close-ups, não permitindo que o público tenha uma boa noção do espaço filmado, prejudicando a mise-en-scene e criando uma certa claustrofobia em alguns momentos. O cinematografista Darius Khondji, então, se mostra pouco criativo e incapaz de aproveitar o que seus cenários tinham de melhor para oferecer. Mesmo com esses defeitos, há um detalhe brilhante na fotografia do longa: a manutenção do dourado em quase toda a paleta do filme. Seja no horizonte pelo por do Sol ou no rosto do protagonista, a cor sempre marca presença, sugerindo que, por viver uma vida honesta e heroica, Fawcett pode até não encontrar sua cidade perdida, mas fez de toda sua trajetória um caminho de ouro. O ouro que em momento algum o personagem encontra na floresta. Sua redenção não estava em seu destino final, mas sim em sua trajetória.
Mas se visualmente Z: A Cidade Perdida não é inventivo, não podemos dizer o mesmo dos questionamentos por ele levantados. Ora com sutileza, ora com uma obviedade que enfraquece, o filme consegue ir além de sua narrativa principal e tecer boas críticas à sociedade da época. Aliás, tais críticas são, infelizmente, aplicáveis nas sociedades ocidentais de hoje. A arrogância e prepotência dos europeus que se negam a acreditar na possibilidade de haver uma grande civilização ainda desconhecida, por exemplo, quase impedem a existência de uma expedição que mudou a história das explorações e mapeamentos no nosso continente. Há um momento de grande impacto quando Fawcett precisa convencer uma platéia de homens brancos ricos de que os indígenas são mais do que “vermelhos selvagens”. A ironia da situação fala por si. Há também os maus momentos, quando o longa tenta assumir uma postura social excessiva e insere em alguns personagens (como a esposa do protagonista), características que são incoerentes tanto no contexto do início do século XX quanto dentro do próprio caráter da personagem.
Infelizmente, no meio de tantos temas abordados, a parte do explorador acaba sendo enfraquecida. Entendemos que Fawcett desenvolveu fascínio pela mata, mas nunca o vemos aplicar seus conhecimentos profissionais. Todas as cenas em que Percy desbrava a mata, o faz como um pacifista, o que por um lado, funciona de forma poética, mas acaba sendo incoerente em um longa biográfico, mesmo que a escolha renda lindos momentos que são uma verdadeira lição de humildade e humanidade. O verdadeiro explorador acaba sendo Henry Costin, o auxiliar vivido por Robert Pattinson. Outro que acompanha Percy em sua segunda viagem é James Murray, um dos “engomadinhos” da organização de mapeamento que quis, com seus próprios olhos a amazônia. Murray é uma das ferramentas mais poderosas do filme, ajudando a desmistificar o imbecil machismo do protagonista, que impediu que sua esposa o acompanhasse na viagem por medo dela atrasar a expedição. No fim das contas, Murray atrapalha todos à sua volta e quase leva a equipe à morte.
Z: A Cidade Perdida é um ótimo drama biográfico, mas que perde pontos por abordar mais temas do que seus já longos 140 minutos de metragem permitem. O forte da obra é o revisionismo de um período em que os europeus são vistos por muitos como heróis, quando na verdade eram figuras auto-indulgentes e extremamente preconceituosas, tendo quase sabotado suas próprias descobertas. Precisou haver o reconhecimento externo para que, então, compreendessem a importância da exploração não para achar riquezas, mas para conhecer e aprender com novas civilizações. Uma pena que o diretor e roteirista James Gray saiba tratar tais assuntos com inteligencia e sutileza, mas não consiga abraçar a subjetividade e a abstração visual que o terceiro ato exigia. O filme mantém seus pés no chão o tempo todo, mesmo quando seu protagonista já está nas nuvens.
Vá ao cinema todos os dias e pague somente uma vez por mês.